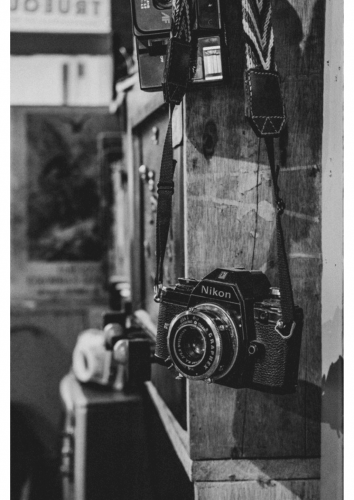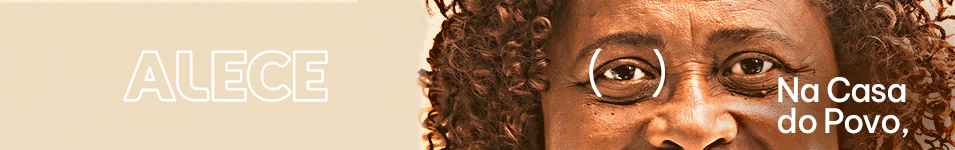Mantendo a chama do apelo publicitário cunhado no século XX pelo conterrâneo Luís Severiano Ribeiro, o cinema consolidou-se como a maior diversão, embora não da maneira original pensada por ele. Trancados a sete chaves, ilhados e apavorados, forçados a aceitar que a realidade superava a ficção, durante dois anos só nos restava fugir para outros mundos pela porta larga da fantasia. Pelo menos foi assim que se deu comigo.
Mantendo a chama do apelo publicitário cunhado no século XX pelo conterrâneo Luís Severiano Ribeiro, o cinema consolidou-se como a maior diversão, embora não da maneira original pensada por ele. Trancados a sete chaves, ilhados e apavorados, forçados a aceitar que a realidade superava a ficção, durante dois anos só nos restava fugir para outros mundos pela porta larga da fantasia. Pelo menos foi assim que se deu comigo.
Embora o mundo como o conhecíamos houvesse encolhido, expandiu-se minha admiração pela criatividade de autores e roteiristas, exibida nas telas de plataformas variadas. Ao mesmo tempo, me surpreendia com a repetição cinematográfica de situações corriqueiras, que transferidas para a tela sofriam mutações capazes de exigir o máximo da minha suspensão da incredulidade (a conhecida suspension of disbelief).
O surgimento de padrões repetitivos me levava a questionar a possibilidade de certas situações existirem em algum outro lugar além da privilegiada imaginação dos roteiristas. Uma rápida listagem, a seguir, facilita a compreensão dessa ansiedade cinematográfica pessoal.
Como é possível que sempre haja uma vaga para estacionamento fácil, bem em frente ao local para onde os personagens se destinam?
O que levou a mocinha sair de casa sozinha, deixando em casa sua bolsa? Onde guardará ela o cartão de crédito ou o dinheiro para suas eventuais despesas?
Qual a razão para a mocinha correr nas ruas em desespero, tendo atrás dela vilões assassinos ou terríveis monstros, e não chutar para longe os sapatos de salto alto?
O que impele o protagonista, sozinho em casa, a transformar um cabo de vassoura, uma colher de pau, um secador ou escova de cabelos em microfone?
Qual o segredo para a mocinha acordar com os cílios a postos, e a maquiagem inalterada? Aliás, por qual ignoto motivo decidiu ela dormir sem lavar o rosto, desrespeitando o secular ritual de beleza?
Quem teve a ideia de considerar que todo café da manhã com uma família feliz está condenado a terminar em sanguinolenta tragédia?
Por que o herói é homem de poucas palavras, e o vilão é o dono da eloquência, em especial na hora decisiva de eliminar o protagonista da face da Terra, o que, para o bem das lucrativas sequências, jamais consegue?
Por que o chapéu do mocinho não cai da cabeça dele, mesmo enquanto está sendo impiedosamente surrado pelo bandido?
Qual a razão para os desprovidos de beleza serem com tanta frequência os vilões?
Por que o esconderijo do vilão se localiza, quase sempre, em uma desafiadora e ousada criação arquitetônica?
Que mãos tão inseguras têm os personagens que, a qualquer má notícia, deixam cair para despedaçarem-se no chão incontáveis pratos, copos e xícaras?
Quem estreou o eterno dilema entre cortar o fio vermelho ou o fio verde, ciente de que um deles deflagrará a explosão? E aquela corda de cânhamo, retorcida, que se desfaz até chegar a um único e emocionante fiapo de sustentação, em qual imaginação terá sido originalmente fabricada?
Onde moram aquelas adoráveis crianças que adormecem antes que o pai termine de ler a primeira página de um livro?
O que motiva os personagens a começarem de repente a cantar e dançar, em inteira sincronia, em momentos ou ambientes pouco propícios ao canto e à dança?
O que faz com que, ao ligar a televisão ou o rádio, os protagonistas vejam ou escutem precisamente a notícia que os envolve, ou que precisavam saber?
É a curiosidade sobre questões como essas que me manteve, e continua a me manter, entretida nas telas, em meio às tantas coisas de cinema que temos visto por aí.